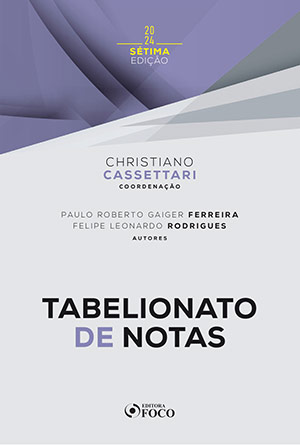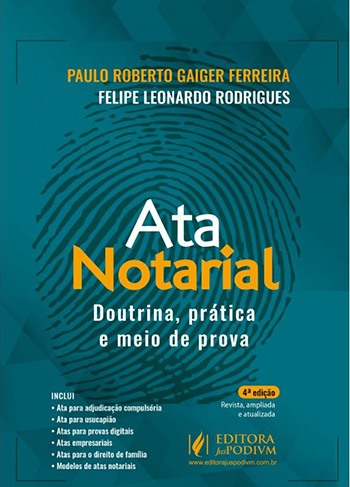CSM|SP: Direito de família – Escritura pública de venda e compra de bem imóvel particular – Outorga uxória inexistente – Inscrição recusada – Dúvida em primeira instância julgada procedente – Apelo provido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1147774-71.2024.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GAISLER LUNARDELLI PUCCI, é apelado 7º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CAPITAL.
ACORDAM, em Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: “Deram provimento à apelação e, afastando a exigência, julgaram improcedente a dúvida, com determinação, v.u.”, de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERNANDO TORRES GARCIA (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), BERETTA DA SILVEIRA (VICE PRESIDENTE), XAVIER DE AQUINO (DECANO), TORRES DE CARVALHO(PRES. SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO), CAMPOS MELLO E CAMARGO ARANHA FILHO(PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL).
São Paulo, 23 de janeiro de 2025.
FRANCISCO LOUREIRO
Corregedor Geral da Justiça e Relator
APELAÇÃO CÍVEL nº 1147774-71.2024.8.26.0100
APELANTE: Gaisler Lunardelli Pucci
APELADO: 7º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca da Capital
VOTO Nº 43.691
Direito de família – Escritura pública de venda e compra de bem imóvel particular – Outorga uxória inexistente – Inscrição recusada – Dúvida em primeira instância julgada procedente – Apelo provido.
I. Caso em exame.
1. O Oficial condicionou o registro da escritura à autorização de Ana Paula Correa Rocha Dias, esposa de Eduardo Dias, alienante/coproprietário, com quem casada sob o regime de comunhão parcial de bens. 2. Os contratantes/interessados, irresignados, alegam que o imóvel é bem próprio e que o casal está separado de fato, não se justificando, assim, a exigência feita. Inconformados com a sentença, apelaram.
II. Questões em discussão.
3. Dispensa da vênia conjugal em razão da separação de fato do casal, envolvido em processo de divórcio litigioso.
III. Razões de decidir.
4. A separação de fato do casal exclui a necessidade de outorga uxória, em atenção à ratio legis, pois não há mais razão para proteger a propriedade familiar e tutelar a estabilidade da vida conjugal. 5. A ausência de autorização conjugal, causa de anulabilidade do negócio jurídico dispositivo, não deslegitima o registro.
IV. Dispositivo.
6. Recurso provido, dúvida julgada improcedente, registro determinado. Legislação citada: CC, arts. 1.647, I, 1.648 e 1.649. Jurisprudência citada: STJ, AgRg no REsp n.º 880.229/CE, rel. Min. Isabel Gallotti, j. 7.3.2013, e REsp nº 1.760.281/TO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.5.2022.
O Oficial condicionou o registro da escritura pública de venda e compra do bem imóvel objeto da matrícula n.º 150.260 do 7.º RI desta Capital, título de fls. 20-25, prenotado sob o nº 570.664 (fls. 9), à outorga uxória de Ana Paula Correa Rocha Dias, com quem então um dos alienantes, o coproprietário Eduardo Dias, é casado sob o regime da comunhão parcial de bens, ou ao suprimento judicial dessa autorização. Em suas razões, escorou-se no art. 1.647, I, do CC, ponderando que a separação de fato não basta à dispensa da vênia exigida (fls. 1-5).
Irresignados, os interessados requereram a suscitação de dúvida, argumentando que o imóvel foi recebido a título de herança, trata-se de bem próprio e que o casal está separado de fato desde 10 de março de 2023, não se justificando, assim, a exigência feita; afirmaram, além disso, que a potencial anulabilidade da venda e compra não é óbice ao registro (fls. 31-41).
Agora, inconformados com a r. sentença de fls. 48-52, que julgou a dúvida procedente, interpuseram a apelação de fls. 58-75, reproduzindo, em linhas gerais, os termos da impugnação.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer de fls. 94-96, opinou pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
O dissenso versa sobre o registro da escritura pública de fls. 20-25, por meio da qual Marcia Marta Simião Fornari, André Dias (com a anuência de Andrea Monique Lopes Santos), Juliana e Guilherme de Araujo Alves, Leonardo José Alves, Greyce Yamaschita Alves, Willian e Fábio Yamashita Alves e Eduardo Dias, proprietários da metade ideal do bem imóvel matriculado sob o n.º 150.260 do 7.º RI desta Capital, alienaram-na à coproprietária Gaisler Lunardelli Pucci, a quem pertence a fração ideal remanescente (fls. 26-30).
A desqualificação registral está assentada no art. 1.647, I, do CC, conforme o qual nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta, alienar bens imóveis. In casu, a inscrição foi pelo Oficial condicionada à outorga uxória de Ana Paula Correa Rocha Dias, com quem o coproprietário/alienante Eduardo Dias é casado sob o regime da comunhão parcial de bens, ou então ao suprimento judicial do consentimento conjugal, alternativa prevista no art. 1.648 do CC.
A situação não envolve bem comum, hipótese na qual seria exigível, de ambos os cônjuges, declaração de vontade, mas sim imóvel próprio, particular de Eduardo Dias, transmitido-lhe causa mortis, daí a exigência da vênia conjugal. Sob essa perspectiva, faltar-lhe-ia legitimação para vender a sua parte ideal, legitimação entendida como poder de dispor.
À luz do escólio de Antônio Junqueira de Azevedo, trata- se de legitimidade-requisito de validade: ora, no caso, em razão de uma relação jurídica anterior (então nascida do matrimônio), o coproprietário Eduardo Dias apenas com a autorização de seu cônjuge teria qualidade (aptidão) para alienar bem imóvel próprio.[1]
A liberdade de atuação do cônjuge é, aí, limitada. Sua autonomia privada sofre restrição, embora a posição jurídica da qual é titular possibilite a prática de negócios jurídicos dispositivos. A propósito, a legitimidade não se contenta com a mera titularidade de certa posição jurídica; exige suficiente autonomia privada para a prática do ato. Em certas situações, o cônjuge não tem plena liberdade para atuar; depende de autorização (consentimento) do outro, fato legitimador positivo.
Trata-se da autorização integrativa, a respeito da qual discorre Pedro Leitão Pais de Vasconcelos, in verbis:
A autorização integrativa é um ato relevante para a obtenção de legitimidade de alguém cuja falta de legitimidade resulta de limitações impostas à autonomia privada, em particular de limitações à liberdade. É um facto legitimador positivo com relevância para a autonomia privada do agente.[2]
A autorização, nessa situação, é, vale frisar, requisito de validade do negócio jurídico, tanto que o art. 1.649, caput, do CC, alinhado com a melhor doutrina, dispõe que “a falta de autorização, não suprida pelo juiz, quando necessária (art. 1.647), tornará anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe a anulação, até dois anos depois de terminada a sociedade conjugal.”
Ocorre que os contratantes, interessados/recorrentes, não se conformam (e com razão) com a exigência, impertinente, alegam, diante da incontroversa separação de fato do casal (situação destacada no título levado a registro), envolvidos em processo de divórcio litigioso, feito que tramita pela 3.ª Vara da Família e Sucessões do Foro de Santo André, objeto dos autos n.º 1031580-18.2023.8.26.0554.
Realmente, não faz sentido a imposição, em atenção à ratio legis, a do dispositivo legal sob exame (a do art. 1.647, I, do CC), vocacionada à proteção da harmonia da vida conjugal, do patrimônio e da estabilidade familiar.
No clássico magistério de Clóvis Beviláqua, a razão da outorga uxória facilmente se revela, pois “os imóveis podem oferecer uma base mais segura ao bem estar da família ou, pelo menos, lhe proporcionarão um abrigo na desventura …”[3] Essa, em suma, a razão, concorda Silvio Rodrigues, “pela qual a lei, visando justamente preservar a família, impede que qualquer dos cônjuges aliene bens de raiz … sem a ciência e mesmo sem o consentimento do outro.”[4]
Sob essa lógica, se o casamento se desfez de fato, parece claro que não há mais necessidade de preservar-lhe uma base segura com bens de raiz, não há razão, obviamente, para se tutelar a estabilidade familiar e, consequentemente, se exigir a vênia conjugal.
O entendimento aqui adotado condiz com a orientação do direito civil contemporâneo de conferir maiores e gradativos efeitos (pessoais e patrimoniais) à separação de fato do casal, situação dotada de eficácia jurídica, marcada pelo esgotamento do câmbio afetivo, pelo exaurimento da relação conjugal, pela voluntariedade e irreversibilidade.[5]
Conforme há tempos indagou Sérgio Gischkow, “se o essencial desapareceu, ou seja, o amor, o respeito, a vida em comum, o mútuo auxílio, que sentido de justiça há em privilegiar o secundário, que é o prisma puramente financeiro, patrimonial, material, econômico?”[6]
Com a separação de fato, enfim, “cessam … os efeitos da comunhão de bens” (AgRg no REsp n.º 880.229/CE, rel. Min. Isabel Gallotti, j. 7.3.2013), põe-se, assim, termo ao regime de bens (REsp n.º 1.760.281/TO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.5.2022), desaparece o conteúdo material do casamento, da relação conjugal, desprovida de sua ratio essendi, uma vez ausente real e concreta vida em comum, a affectio maritalis, elemento de sustentação do vínculo conjugal.[7]
Essa compreensão, aliás, é sintônica com a concepção eudemonista do casamento e da família, que, pontua João Batista Villela, “de unidade proposta a fins econômicos, políticos, culturais e religiosos, … passou a grupo de companheirismo e lugar de afetividade.”[8] Nessa linha, acrescenta: “o caráter instrumental do casamento de outrora, vale dizer, seu condicionamento a interesses extrínsecos, nomeadamente da Igreja e do Estado, cede ao recorte pessoal que lhe dão os cônjuges, com vistas à realização mútua.” [9] Em última análise, é harmônica com o conceito de família acolhido pela Constituição Federal.
A família contemporânea constitucionalizada, aponta Luiz Edson Fachin, “afasta-se do standard talhado em séculos passados. É o afeto o elemento unificador dessa família em busca do novo milênio. Os laços de família, conforme gravava Cecília Meireles, afastam-se dos tradicionais critérios patrimoniais e biológicos, edificando-se sobre os vínculos de amor e afeição que aportam como os verdadeiros elementos solidificadores da unidade familiar.”[10]
Compartilham dessa intelecção Joyceane Bezerra de Menezes, Maria Cristina De Cicco e Maria Celina Bodin de Moraes:
Sob a influência das mudanças incorporadas ao longo do século XX, a ordem constitucional de 1988 encampou uma família de feição eudemonista, cuja função é a de promover a realização pessoal de cada um dos seus membros, assumindo um papel substancial na concretização de sua dignidade.
…
Eudemonista é a família cujo perfil funcional, a sua função precípua, é a promoção da felicidade dos seus membros. Entende-se, aqui, referida “felicidade” sob uma perspectiva dinâmica correlacionada à busca da autorrealização e não como um estado subjetivo de permanente contentamento ou alegria. Foi assim que os constituintes compreenderam a família – um grupo social que visa à realização pessoal de cada um dos seus integrantes …[11]
Como explica Gustavo Tepedino, os arts. 226 a 230 da Carta Magna deslocam o centro da tutela constitucional do casamento para as relações familiares que não decorrem necessariamente do casamento, mas também de outras entidades familiares. A proteção da família não mais tem razão no fato milenar de se considerar unidade de produção e reprodução de valores éticos e culturais, mas sim funcionalizada à dignidade de seus membros e ao desenvolvimento da personalidade dos filhos. Em termos diversos, a família deixa de ter valor intrínseco, como instituição capaz de merecer tutela jurídica pelo simples fato de existir, passando a ser valorada de maneira instrumental, na exata medida em que constitua um veículo destinado à promoção da dignidade de seus integrantes.[12]
Dentro desse contexto, findo (de fato) o casamento, que então não mais se presta à realização pessoal dos cônjuges, impõe-se a exclusão da exigência impugnada, restrição à autonomia privada, à livre disposição de bem imóvel particular, que não mais se justifica, pois perdeu a sua função prática, o seu escopo. Nesse passo, não há razão a justificar o cerceamento da liberdade, a limitação da autodeterminação individual. Não há, consequentemente, ofensa ao princípio da legalidade.
A esse respeito, calha o apontamento de Ricardo Dip:
A subordinação do juízo qualificador ao princípio da legalidade não lhe impõe uma redução literalista para a compreensão do sentido normativo da lei, que descarte a estimativa de seu contexto significativo e sistemático, a atenta consideração teleológica e a observação mais ampla dos princípios ético- jurídicos superiores às regulações particulares …[13]
Agora, ainda que necessário fosse o consentimento conjugal, a sanção civil estabelecida em lei para sua ausência, prevendo a anulabilidade do negócio jurídico dispositivo (sanção aqui destituída de interesse público, a exigir processo contencioso, invocável apenas pelo interessado e sujeita a um prazo decadencial de dois anos; cf. 1.649, caput, do CC), estaria a desautorizar o juízo qualificador negativo, apesar do controle de legalidade inerente à atuação registral do oficial.
Na lição elegante de Afrânio de Carvalho, o princípio da legalidade “há de funcionar como um filtro que, à entrada do registro, impeça a passagem de títulos que rompam a malha da lei, quer porque o disponente careça da faculdade de dispor, quer porque a disposição esteja carregada de vícios ostensivos.”[14]
Discute-se, à vista da concisão do texto normativo, tanto do Código Civil como da Lei de Registros Públicos, até onde vai o poder qualificador do oficial de registro de imóveis, “até onde deve ser levado o exame da legalidade, mas é evidente que não pode ser tão amplo que abranja todos e quaisquer defeitos que o oficial considere inquinar o título, pois isso implicaria em investi-lo de ambas as jurisdições, a voluntária e a contenciosa”.[15]
Adiante, Afrânio de Carvalho acentua que “uma forte corrente de opinião, em resposta à questão de saber até onde pode ir o registrador no exame da legalidade, pensa que ele deve ater-se às nulidades de pleno direito, que são pronunciáveis de ofício, sem se estender às anulabilidades”; trata-se, arremata, da doutrina consentânea ao direito posto.[16]
É, no direito português, a posição de Carlos Ferreira de Almeida, cujo pensamento merece ser transcrito:
Antes de mais, os atos anuláveis podem considerar-se como válidos até que sejam anulados, embora tal anulação retroaja, em princípio, os seus efeitos à data de celebração do ato. De fato, os atos anuláveis são dotados de eficácia (resolúvel), o que mostra que são atos válidos (imperfeitamente válidos). A chamada nulidade relativa seria mais concretamente qualificada de validade relativa. O decurso do prazo de anulabilidade sem a propositura da ação respectiva torna o ato inatacável, isto é, perfeitamente válido. Não se trata de uma convalidação (pois que então se não compreenderia a sua susceptibilidade de efeitos antes do decurso desse prazo), mas antes de um completamento e aperfeiçoamento de validade. …
Portanto, se parece não ser lícito concluir decisivamente da própria natureza destes atos se são ou não registráveis, a sua análise levará mais facilmente a admitir a registrabilidade (pela sua condição de atos imperfeitamente válidos) do que repudiá- la (por ser ilusória a sua nulidade até a invocação do vício).[17]
Sobre o tema, basta pensar em múltiplas situações que envolvem anulabilidades, ou nem isso, ineficácia relativa do contrato. Tome-se como exemplos a venda de ascendente a descendente, nada obstante ausentes ou não provados os consentimentos exigidos pelo art. 496 do CC, tornando-a passível de anulação dentro do prazo decadencial de dois anos (art. 179 do CC), a venda de parte ideal em condomínio pro indiviso com inobservância do direito de preferência, hipótese disciplinada pelo art. 504 do CC, e a alienação de imóvel locado em ofensa ao direito de prelação do locatário, embora averbado o pacto locatício, situação regulada nos arts. 27 e seguintes da Lei n.º 8.245/1991, que, como a anterior, é causa de ineficácia relativa, a serem arguidas, respectivamente, nos prazos de cento e oitenta dias e seis meses.
Convém ainda considerar que eventual declaração de invalidade nenhum efeito positivo traria ao cônjuge a quem cabia a vênia conjugal, o único legitimado a demandá-la (eventualmente, na sua falta, os seus herdeiros também podem requerê-la, e aí também sem proveito econômico). A venda teve por objeto bem próprio, particular, que, assim, com a anulação, retornaria ao patrimônio do alienante. Sob esse ângulo, discutível, aliás, o interesse jurídico do cônjuge. Há, aí, mais uma razão determinante do registro.
Vale, sob essa perspectiva, a vetusta, e sempre atual, lição de Miguel Maria de Serpa Lopes, in verbis:
Um princípio devem todos ter em vista, quer Oficial de Registro, quer o próprio Juiz: em matéria de Registro de Imóveis tôda a interpretação deve tender para facilitar e não para dificultar o acesso dos títulos ao Registro, de modo que tôda a propriedade imobiliária, e todos os direitos sôbre ela recaídos fiquem sob o amparo de regime do Registro Imobiliário e participem dos seus benefícios.[18]
Se confirmada fosse a exigência, se ratificado fosse o juízo desqualificador, mais se perderia, em cotejo, in concreto, com as vantagens advindas da qualificação positiva, mormente se levada em conta a segurança jurídica que proporcionará, finalidade a que então se predispõe o registro.
Em outros e mais simples termos, o que se perde com a recusa do registro é de maior revelo do que aquilo que se ganha com a exigência, presa à letra fria da lei.
Sob essa ótica, a proporcionalidade em sentido estrito e a necessidade (expressando aqui a vedação do excesso), dois dos três subprincípios (o outro é a adequação) componentes do conteúdo do princípio da proporcionalidade, estão também a respaldar o registro.[19]
Conforme acentua Luís Roberto Barroso, em passagem então aplicável à solução do dissenso registral em apreço, o princípio da proporcionalidade “pode operar, também, no sentido de permitir que o juiz gradue o peso da norma, em determinada incidência, de modo a não permitir que ela produza um resultado indesejado pelo sistema, fazendo assim a justiça do caso concreto.”[20]
Com efeito, trata-se de apontamento em conformidade com a interpretação realizada e a ponderação efetivada, com o juízo prudencial, de natureza prática, com a razão prática característica da qualificação registral, juízo pautado pelas circunstâncias concretas.[21]
A proporcionalidade, compreendida por Humberto Ávila como postulado normativo aplicativo, uma metanorma, é vocacionada justamente a orientar a aplicação de outras normas, institui critérios de aplicação de outras normas, presta-se a solucionar questões que surgem com a aplicação do Direito[22], in concreto, então, a calibrar o controle da legalidade em ordem a tutelar a segurança jurídica.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento à apelação e, afastando a exigência, julgo improcedente a dúvida e, por conseguinte, determino o registro do título de fls. 20-25, escritura pública de venda e compra prenotada sob o n.º 570.664 (fls. 9).
FRANCISCO LOUREIRO
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Notas:
[1] Negócio jurídico: existência, validade e eficácia. 4.ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 58.
[2] A autorização. 2.ª ed. Coimbra: Almedina, 2016, p. 212.
[3] Código Civil Comentado, Direito de Família. 11.ª ed. Atualizada por Achilles Bevilaqua. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1956, p. 93. v. II.
[4] Direito Civil: Direito de Família. 21.ª ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 136, v. 6.
[5] A esse respeito, cf. Ney de Mello Almada. Separação de fato. In: Direito de Família: aspectos constitucionais, civis e processuais. Teresa Arruda Alvim (coord.). São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 207-228.
[6] Tendências modernas do direito de família, RT 628/30, v. 77, fev. 1998.
[7] Sobre o tema, cf. Tereza Arruda Alvim Pinto (Decisão proferida incidentalmente em inventário: meação de patrimônio adquirido por um dos cônjuges durante a separação de fato, Revista de Processo 70/166, v. 18, abr.-jun. 1993) e Euclides Benedito de Oliveira (Separação de fato e cessação do regime de bens no casamento, RIASP 6/126, jan.-jun/2000).
[8] Liberdade e família. In: João Batista Villela: obra selecionada. Juliana Cordeiro de Faria, Edgard Audomar Marx Neto, Elena Carvalho Gomes, Júlia Vieira Froes (orgs.). São Paulo: Dialética, 2023, p. 389.
[9] Op. cit., p. 390.
[10] A família plural: jornada em direção à luz. In: Questões do Direito Civil brasileiro contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 324.
[11] Constituição da República de 1988: elementos para uma teoria constitucional da família. Civilistica.com. Rio de Janeiro, a. 13, n. 13, 2024, p. 2-5. Disponível em: <https://civilistica.Emnuvens.com.br/redc>. 20.12.2024.
[12] A disciplina civil-constitucional das relações familiares. In: Temas de Direito Civil. 2.ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 349-368.
[13] Sobre a qualificação no registro de imóveis. In: Revista de Direito Imobiliário. n. 29, p. 33-72, janeiro-junho 1992. p. 53.
[14] Registro de Imóveis. 2.ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 250-251.
[15] Afrânio de Carvalho, op. cit., p. 253.
[16] Op. cit., p. 257. No mesmo sentido, Pontes de Miranda (Tratado de Direito Privado. Rio de Janeiro: Borsoi, t. 11, par. 1.233, p. 279), e José Manuel Garcia Garcia (Derecho Inmobiliario Registral o Hipotecario. Madrid: Editorial Civitas, 1988, p. 465).
[17] Publicidade e teoria dos registros. 2.ª ed. São Paulo: Almedina Brasil, 2022, p. 206.
[18] Tratado de Registros Públicos: Registro Civil das Pessoas Jurídicas, Registro de Títulos e Documentos e Registro de Imóveis. 5.ª ed. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos, 1962, p. 346. v. II.
[19] Sobre o tema, cf. Luís Roberto Barroso. Curso de Direito Constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. 8.ª ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 249-255 e 511-512.
[20] Op. cit., p. 292.
[21] A respeito do tema, cf. Ricardo Dip, op. cit., p. 40-42.
[22] Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 12.ª ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 134-135, 145-149 e 173-188.
(DJe de 03.02.2025 – SP)